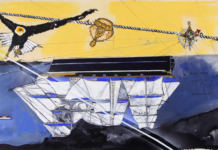Vivemos nos últimos tempos uma falsa impressão de normalidade, muitas vezes acompanhada de uma esperança de que tudo poderia retornar ao que era antes. No entanto, mesmo que fosse possível resgatar velhos hábitos, apenas acrescidos (e não por todos) do cumprimento de protocolos como uso de máscara e álcool em gel – o que parece bastante improvável com o crescimento exponencial dos índices de contágio –, há algo de amargo nessa ilusão de que se pode recuperar o tempo perdido. Em primeiro lugar, porque o período da quarentena não foi um parêntese, um momento em suspenso. Este isolamento, o mergulho íntimo num cotidiano que ora se revela idêntico ora parece ser de um outro mundo, revelou-se muito mais complexo e desafiador. Acabou também gerando uma tal profusão de camadas de interpretação, reflexão, engajamento ou negação que custaremos a digerir e que nos coloca diante de um mundo muito mais complexo, paradoxal e contraditório do que aquele anterior a março de 2020.
São muitas as perguntas sem resposta que se acumularam de lá para cá e muitos são os pontos de vista desses questionamentos, gerando uma enormidade de interpretações, desejos, reflexões capazes de alimentar uma forte – e muitas vezes angustiante – dúvida sobre os impasses do momento atual e o que assistiremos no futuro próximo. Ao longo dos últimos nove meses (não por acaso tempo equivalente ao de uma gestação), muito foi produzido e começa aos poucos a chegar às nossas mãos.
Um desses conjuntos, que traz uma ampla gama de análises desenvolvidas por pessoas das mais diferentes áreas do conhecimento, é No Tremor do Mundo, coletânea de ensaios e entrevistas publicadas recentemente pela editora Cobogó. São ao todo 25 autores que procuram destrinchar não apenas os efeitos da pandemia sobre o mundo, os indivíduos e a sociedade, mas também entender de que forma essa situação excepcional ajuda a iluminar, transformar ou acentuar a crise atual, seja ela política, econômica, ambiental ou humana. Os textos oscilam entre um otimismo quase redentor e um pessimismo ácido em relação aos desafios gigantescos a serem enfrentados para, nas palavras de Ailton Krenak (um dos vários entrevistados pelos organizadores da publicação, Luisa Duarte e Victor Gorgulho), “adiar o fim do mundo”.
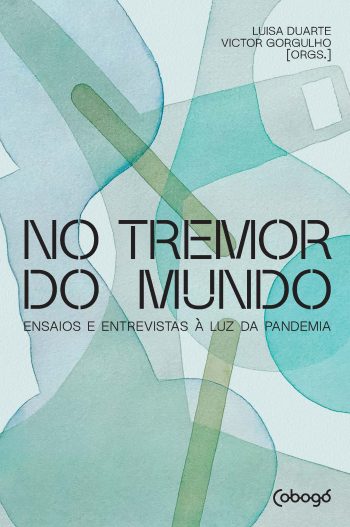
Nada mais terrível do que uma doença – até o momento incontrolável – que nos lembra que “o amanhã pode simplesmente não existir”, como alerta Sidarta Ribeiro. Ou, nas palavras de Guilherme Wisnik, um vírus que revela “um mundo dominado por sentimentos crescentes de paranoia e angústia”. A variedade de respostas ensaiadas pelos diferentes autores não esconde uma certeza em comum: que o momento atual funciona como uma espécie de alerta, revela a necessidade de uma mudança radical. “O Covid expôs a extensão e a profundidade da ruptura necessária”, sintetiza Heloisa Starling.
O enfrentamento pode se dar pela ação concreta, real, de movimentos como o das Marés ou do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), cujas estratégias de combate ganham visibilidade nas entrevistas feitas com Eliana Souza Silva, fundadora da ONG Redes da Maré, e com os coordenadores do MLB. Mas também se revelam a partir de reflexões filosóficas de amplo alcance, que na maioria das vezes retomam instrumentais que já vinham sendo elaborados pelos pensadores, como demonstra Pedro Duarte numa bela síntese sobre os principais lances dados pelos filósofos nesses tempos turvos.
No campo mais específico da cultura e da arte, uma questão parece ricochetear em praticamente todos os comentários, interpretações e questionamentos aventados: como pensar a questão da experiência da troca, do intercâmbio – porque não do contágio – da prática artística se o contato entre as pessoas foi limitado? A própria criação artística parece oferecer essa ponte, propor uma aproximação, poética ou reflexiva, afetiva ou simbólica, como podemos perceber em várias ações que vêm sendo compartilhadas ao longo desse período de “isolamento”. É o caso, por exemplo, do diário que a escritora Noemi Jaffe – uma das autoras convidadas de No Tremor do Mundo – se propôs a escrever como um “ato de elaboração em meio a um grande luto”.
Rosana Palazyan, cuja obra é marcada por uma delicadeza cortante e pela capacidade de combinar o universal e o particular (sua instalação Uma História que eu nunca Esqueci ajudou a Armênia a conquistar o Leão de Ouro de Melhor Pavilhão Nacional, na 56a Bienal de Veneza), também mergulhou nesse período de quarentena num rico processo de elaboração simbólica do drama coletivo vivenciado por todo o globo nesse 2020, e que em países como o Brasil – submetidos a governos de índole totalitária e negacionista e marcados por uma profunda desigualdade – é vivido de forma ainda mais intensa. Desde abril ela vem desenvolvendo a série Aqui é mais do que o Vírus, um conjunto de pequenas máscaras que cabem nas palmas das mãos e foram realizadas a partir do único retalho de que dispunha (desde o início da pandemia resolveu instalar-se na casa da mãe, ficando longe de seu ateliê). Sobre essas delicadas miniaturas, Rosana borda frases, palavras, desenhos das mais diferentes origens (apropriadas de conversas, pensamentos, reportagens…) utilizando como linha seus próprios fios de cabelo, material que utiliza desde um trabalho com meninos de rua desenvolvido em 1998. “São como as palavras e pensamentos que saem das bocas que passaram a ficar escondidas. Espaço para nossas falas, relacionando os acontecimentos diários que aqui precisamos resistir para vencer muito além de um vírus mortal, dentro de uma realidade desigual e injusta”, sintetiza.

Alfredo Nicolaiewsky, artista e professor gaúcho, também sentiu-se estimulado pelo isolamento da pandemia e desenvolveu um interessante processo de criação e troca. Com a agenda mais livre, resolveu retomar seu trabalho com pintura, técnica que havia abandonado há 20 anos. Começou a pesquisar diariamente novas composições, usando como suporte caixas de papelão de descarte. Contrariamente ao usual silêncio do ateliê (normalmente os artistas preferem exibir suas obras quando já prontas ou encaminhadas), passou a enviar imagens desses trabalhos e conversar sobre eles com um grupo de amigos por Whatsapp, estimulando assim um diálogo e uma proximidade que mostra, na prática, como a cultura é algo coletivo. O resultado desse processo acabou sendo transformado em livro digital, cujo título Alfredo em Processo; Nicolaiewsky em quarentena ironiza esse duplo nível de relação, entre o autor público e o indivíduo que enfrenta as adversidades do cotidiano.
Outros vários livros, virtuais ou não, tem vindo à tona nos últimos tempos, com diferentes enfoques e abordagens, tornando mais rica essa reflexão. É possível citar, por exemplo, a antologia Histórias da Pandemia, organizada pela editora Alameda, que reúne dez contos de autores que trazem pontos de vista históricos, pessoais e narrativos distintos, porém complementares, em que se sucedem momentos de delicada comédia (Ciúmes, de Luiz Kignel), revisão histórica (As Mortes de Antônio Valle, de Marcelo Godoy) ou uma narrativa que mescla memórias de infância, o despertar da sexualidade homoerótica e a dureza das perdas pelo coronavirus numa sociedade que se recusa a enxergar o óbvio (Supernova, de Felipe Cruz).
Essa enorme oferta e a diversidade de caminhos adotados só mostra que, em meio à ansiedade pela retomada, é preciso parar para pensar, manter olhos e ouvidos abertos para murmúrios menos espetaculosos, mas talvez mais organizadamente conectados com a traumática experiência dos últimos meses, observar atentamente processos, reflexões, escritas, criações que nasceram desse período de quarentena, ameaça e isolamento.