
Logo na entrada do KW Instituto de Arte Contemporânea, em Berlim, uma foto retrata as 14 figuras mais representativas do local, em uma seleção de seus próprios funcionários. Trata-se de “Lendários”, da brasileira Cinthia Marcelle, uma série iniciada em 2008, e que já foi feita no Copan, Centro Cultural São Paulo e Parque Lage, no Rio.
Estranho na imagem é a ausência do fundador do local, Klaus Biesenbach, que acaba de deixar seu posto de curador no MoMA, em Nova York, para tornar-se diretor do MOCA, o museu de arte contemporânea, de Los Angeles.
A imagem é uma espécie de reencenação de uma foto feita por Man Ray, em 1941, e que incluía Peggy Guggenheim, André Breton, Mondrian e Marcel Duchamp, um time estelar da arte moderna. Já a imagem de Marcelle apresenta de certa forma os bastidores de instituições culturais.
O trabalho se encaixa perfeitamente na 10ª. edição da Bienal de Berlim, “We don´t need another hero”, em cartaz até 9 de setembro na capital alemã. Com curadoria da sul-africana Gabi Ngcobo, que participou da equipe de Jochen Volz na Bienal de São Paulo há dois anos, a mostra reuniu artistas que, a exemplo de Marcelle, buscam revelar camadas muitas vezes opacas na sociedade.

Pela primeira vez em Berlim – e o que nunca aconteceu na Bienal de São Paulo, é bom lembrar, toda a equipe de Ngcobo é composta de negros, em sua maioria mulheres: Yvette Mutumba, Nomaduma Rosa Masilela, Moses Serubiri, e o brasileiro Thiago de Paula Souza.
Berlim é uma bienal que costuma ser marcada pela ousadia, como em 2012, em sua 7ª. edição, quando a sala principal do KW foi cedida aos movimentos de ocupação que se espalhavam por todo o mundo após o Occupy Wall Street. Em suas últimas edições, contudo, predominaram críticas contundentes por mostras um tanto herméticas e confusas.
A Bienal de Ngcobo é um alívio nesse sentido. Ela possui uma expografia clara, com amplos espaços para cada obra, ocupa poucos locais da cidade _apenas cinco_ e reúne um número bastante reduzido de artistas em se pensando em mostras desse gênero, 46 no total. Com 30 obras comissionados pela equipe curatorial, o resultado é de trabalhos fortes e eloquentes, o que revê um dos pilares dessas grandes exposições, quando é a quantidade que gera qualidade. Nesta bienal de Berlim, menos é mais.
“Again/Noch einmal” (De novo), de Mario Pfeiffer, é um desses trabalhos inesquecíveis, que fala do tempo presente de forma poética e inteligente. Em 2016, na conservadora região da Saxônia, quatro alemães amarraram um refugiado iraquiano com histórico de epilepsia em uma árvore do lado de fora de um supermercado, porque achavam que ele estava ameaçando a caixa da loja. O caso criou controvérsia na Alemanha, pois os quatro foram processados, mas popularmente chegaram a ser aclamados como heróis agindo com “coragem civil”. Na véspera do julgamento, o refugiado foi encontrado morto e o caso acabou cancelado.
A Bienal, contudo, não tem um tom político constante, como esses dois trabalhos podem fazer supor. Há uma mescla bastante delicada entre estratégias poéticas menos militantes, como as pinturas da chilena Johanna Unzueta, dispersas em vários locais da exposição no KW e na Academia de Arte (Akademie der Kunst), baseadas em práticas indígenas e expostas em cavaletes inspirados nos projetos de Lina Bo Bardi. Ou então nas plantas inseridas nas frestas do piso do espaço expositivo da mesma Academia por Sara Haq, sinal tanto de delicadeza como da força da natureza.
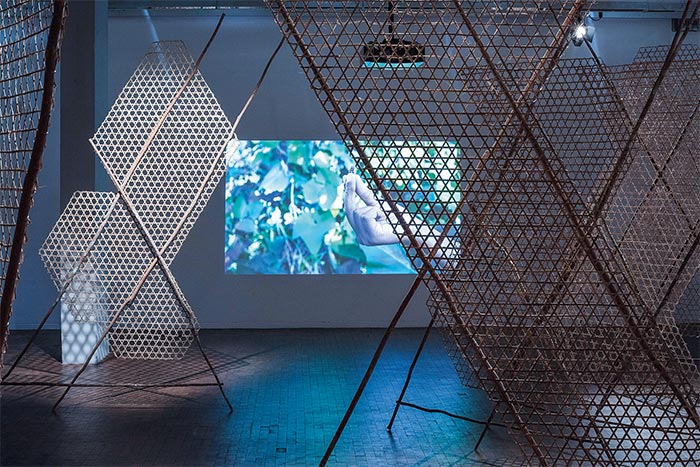
COM O PASSADO E PRESEAMinia Biabiany, toli toli, Metáfora com o Passado e Presente ColonialNTE COLONIAL
As pinturas da cubano Belkis Ayón (1967 – 1999) são outro ponto alto da Bienal ao expor o trabalho do artista que aborda os rituais de uma sociedade secreta afro-cubana exclusivamente masculina denominada Abakuá.
A Bienal, aliás, é farta em apresentar trabalhos que dialogam com outros campos do conhecimento, o que é o caso da série ILLUSIONS, iniciada em 2016, de Grada Kilomba, que revê mitos gregos a fim de observar o simbolismo e as alegorias carregadas de opressão neles. Em Berlim, ela reencena Édipo Rei, de Sófocles, em duas telas: em uma Kilomba narra a história de forma didática, em outra, a atuação de vários atores se desenrola de forma bastante coreográfica.
Rever práticas autoritárias, de fato, se torna uma constante ao longo da Bienal, mas o que a torna particularmente especial é propor novas narrativas que funcionem como um contraponto possível. Um detalhe que ganha destaque, nesse sentido, é que todos os artistas presentes na Bienal nunca são identificados por sua idade, gênero e origem, nem se estão vivos ou mortos. O que pode dar impressão de falta de informação, no final é a prática da igualdade levada ao extremo. O que interessa são as obras.
A expografia segue também esse padrão ao ceder espaços amplos para que cada obra seja elevada à sua máxima potência. Se uma Bienal que fala sobre o colapso do tempo presente já é relevante, apontar caminhos que representem saídas dessa crise a torna vital. “We don’t need another hero” não poderia ter, tanto no título quanto no conteúdo da exposição, uma mensagem mais clara.










