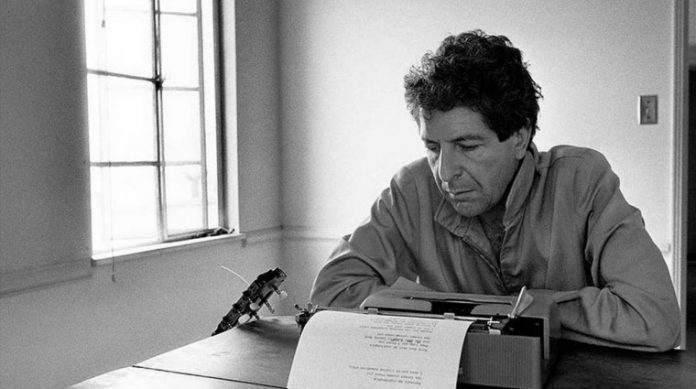
Havana, 17 de março de 1961. Da janela de seu hotel, o jovem autor de dois elogiados livros de poesia vê tropas correndo pelas ruas e ouve a artilharia antiaérea. Deixara a barba crescer ao estilo de Che Guevara e vestia-se como um legítimo guerrilheiro. Como diz a biógrafa Sylvie Simmons, no livro I’m Your Man (editora BestSeller), ele se sentia atraído pelas ideias comunistas da mesma forma que se sentia atraído “pelas ideias messiânicas da Bíblia”. A experiência algo bizarra na invasão da Baía dos Porcos, e nas noites em que vagou pelas vielas e becos da capital cubana “com um caderno numa das mãos e uma faca de caça na outra”, rendeu alguns poemas, ao menos uma canção, Field Commander Cohen ( Nosso espião mais importante/Ferido na linha de batalha/Jogando ácido de paraquedas em festas diplomáticas”) e a tentativa de um romance, The Famous Havana Diary. Mas principalmente mostra como Leonard Cohen, talvez o mais original sedutor da canção, sempre esteve em busca de algo que aplacasse sua inquietação e angústia.
“Pode ser qualquer coisa que funcione, vinho, catolicismo, budismo, LSD”, disse certa vez, sem mencionar o amor das mulheres, quase sempre correspondido (que o digam Joni Mitchell, Nico, Janis Joplin e, entre tantas outras, a atriz Rebecca De Mornay). Aos 13 anos aprendeu hipnotismo num livro e experimentou seus novos conhecimentos com a bela governanta que trabalhava em sua casa. O truque funcionou e ela docilmente tirou as roupas. A revelação mágica daquele corpo teve efeito tão grande sobre o aspirante a escritor quanto os ensinamentos do avô, rabino importante em Montréal, onde Cohen nasceu. Diria-se que a hipnose voltou-se contra o hipnotizador. A cena depois foi descrita em seu primeiro romance, A Brincadeira Favorita , de 1963, publicado no Brasil pela Cosac Naify. Como se fechasse um ciclo, na música Because of, uma das melhores de Dear Heather, disco lançado quando já tinha 70 anos, ele entoa os versos (em tradução livre): “Por causa de algumas canções/ Em que falei de seus mistérios/As mulheres têm sido/Excepcionalmente gentis/com minha velhice./Elas arrumam um lugar secreto/Em suas vidas ocupadas/E me levam até lá./Então ficam nuas/Cada qual à sua maneira/e dizem,/Olhe para mim, Leonard/Olhe para mim pela última vez./E inclinando-se sobre a cama/Me cobrem/Como se eu fosse um bebê com frio”.
A hipnose também funcionava muito nos espetáculos ao vivo, em que a plateia entrava num estado de comunhão e adoração, cantando cada verso de So Long Marianne ou Hallelujah, duas de suas mais famosas canções, com os olhos fechados ou fixos naquela figura elegante que se movia lentamente no palco e parecia se dirigir a cada um com atenção especial. Depois que a manager Kelly Lynch sumiu com todo seu dinheiro (cerca de US$ 5 milhões), aproveitando-se dos seis anos em que ele ficou meditando num mosteiro budista, iniciou uma série de turnês mundiais, que duraram de 2008 a 2013. Mesmo nesse último ano, já visivelmente cansado e talvez doente, emagrecido em seu terno de listras e sob o indefectível chapéu Fedora, o Captain Mandrax de outros tempos, quando entornava três garrafas de Chatêau Latour no camarim, se entregava de corpo e alma ao público, em shows que duravam três horas e meia. Chegava a ajoelhar-se no chão, com o punho fechado, num gesto de intensidade que poderia parecer teatral não fosse a verdade em sua voz. Vinte anos antes, em Paris, voltou seis vezes para o bis. O público francês espelhava sua rara disposição e não se cansava de aplaudir, de pé, como se o tempo tivesse deixado de existir. Não à toa, dizia-se, meio brincando, “que se uma francesa tivesse apenas um disco, seria um do Leonard Cohen”.

A primeira vez
Curiosamente, sua primeira aparição em um show como artista solo quase durou alguns segundos apenas. Convidado pela cantora folk Judy Collins, que havia gravado Suzanne com sucesso, ele tremia tanto, “como uma vara”, que pediu desculpas e abandonou o palco, só voltando depois de encorajado pela linda amiga. Para a biógrafa Simmons ele revelou, com o humor fino e autoderrisório que lhe era peculiar: “De alguma forma consegui terminar e achei que ia cometer suicídio. Ninguém sabia o que fazer ou dizer. Acho que alguém pegou a minha mão e me tirou do palco. Todos nos bastidores sentiram muita pena de mim e não conseguiram acreditar em como eu estava feliz, no quanto estava aliviado por ter dado errado. Eu nunca tinha sido tão livre”.
A música surgiu bem cedo em sua vida. Seu pai era o bem-sucedido dono de uma confecção de roupas finas (“já nasci num terno”, diria mais tarde) e sua mãe “uma judia russa, de generoso espírito tchekcoviano ”. Teve aulas de piano quando criança e, já adolescente, tocou clarinete na escola e em casas noturnas, onde “vivia cantando e bebendo”. Na mesma época se encantou com a poesia de Yeats e Garcia Lorca – este, seu grande ídolo, ao lado de Ray Charles e Hank Williams -, e começou a escrever seus primeiros versos. Comprou também um violão, com o qual aprendeu a tocar canções socialistas (“os socialistas eram os únicos que tocavam violão naquela época”), baladas escocesas, flamenco, o folk de Woody Guthrie e o folk-blues de Leadbelly. No segundo ano da faculdade, fundou com dois amigos a banda de covers Buckskin Boys. Tocavam basicamente um country bem-comportado, em igrejas e escolas. Até que descobriram o calipso no pequeno bairro negro de Montréal e Cohen começou a improvisar naquele ritmo, cantando sobre as pessoas que passavam na rua.
Porém, a música só se tornou sua atividade principal quando tinha 32 anos e gravou, entre 1967 e 1968, o primeiro disco, Songs of Leonard Cohen. Quatro meses mais velho que Elvis, era um ancião no meio. Antes, publicou seis livros, quatro de poesia e dois romances, pelos quais recebeu críticas em geral bem favoráveis. No Canadá era já bem conhecido, pois fazia leituras em turnês com outros poetas, dentre eles o amigo e grande mentor Irving Layton. Também se apresentava com uma banda de jazz de até 12 instrumentistas, que era o que mais gostava. Seu jeito meio tímido, com que falava seriamente coisas às vezes surreais ou irônicas, desconcertava e seduzia quem o via. Como em suas canções, os poemas e histórias têm muitas nuances e ambiguidades, são a um só tempo tristes e engraçados, metafísicos e eróticos, engajados e hedonistas. Basta ver os títulos de alguns de seus livros para se ter uma ideia: Flowers for Hitler, The Energy of Slaves, Beautiful Losers. Cohen gostava de brincar com os contrastes e de inverter expectativas. Beautiful Losers, seu segundo romance (em fase de tradução para o português), de 1966, foi o que fez mais barulho. Em linhas gerais, conta a história de um triângulo amoroso entre um antropólogo, um separatista por Québec e uma descendente dos índios iroqueses. Um dos três se mata, outro, com sífilis, enlouquece. O estilo é caleidoscópico, vai do surrealismo à pornografia, sem, no entanto, perder o fio da meada. Um crítico disse que era “uma mistura de James Joyce com Henry Miller”. Mas é uma obra única, como quase tudo que Cohen fazia.
Entre os fãs do livro, estava um certo Lou Reed, que Leonard conheceu quando decidiu se mudar para Nova York, justamente para tentar se tornar músico, já que a literatura lhe rendia muitos elogios mas pouco dinheiro. Instalado no mítico Chelsea Hotel, que intitula outra de suas canções mais conhecidas, Chelsea Hotel nº2 – estão nela as famosas linhas contando o caso com Janis (cantadas com candura e afeto, apesar da crueza da descrição): “Você me chupava na cama desfeita/enquanto a limousine te esperava na esquina” –, passou a frequentar a Factory de Andy Warhol e trocar ideias com Patti Smith, a quem considerava, com entusiasmo (e razão), “um gênio, absolutamente brilhante, vai se tornar uma grande potência!”. Numa das noitadas, fez uma jam com Jimi Hendrix. Tocaram Suzanne, uma das favoritas do guitarrista: “Ele era uma figura gloriosa, e foi muito gentil comigo, tocando sem distorções para que minha voz aparecesse”. O encontro mais importante, no entanto, foi com o produtor John Hammond, que havia descoberto Bob Dylan e Billie Holiday para a Columbia Records. Alertado pelos rumores, foi ao pequeno aposento de Leonard no quarto andar do Chelsea e, olhando a estranha combinação de livros no criado-mudo, em que conviviam, lado a lado, Myra Breckinridge, de Gore Vidal, romance satírico sobre uma transsexual, e um tomo do filósofo Martin Buber sobre a iluminação judaica, sentou-se na beira da cama e pediu para ouvir algumas composições. Depois de três músicas – entre elas, claro, Suzanne –, Hammond foi categórico: “Vamos assinar um contrato agora. Bob Dylan que se cuide!”

O falso rival
Dylan, obviamente, nunca teve que “se cuidar”. Mas ambos sempre foram muito comparados. O perfil básico é o mesmo: judeus, literatos, obcecados por metáforas bíblicas, tendo partido os dois do folk mais engajado para depois seguir caminhos próprios. As diferenças, porém, também são grandes, e há até quem defenda que Cohen é quem merecia o Nobel de literatura. A verdade é que Dylan sempre esteve mais próximo da poesia beat de Allen Ginsberg e proto-beat de Walt Whitman, com versos enormes, muitas imagens espalhadas, numa tendência para a entropia vertiginosa, utilizando-se de formas mais improvisadas ou aparentemente desalinhadas, ao passo que seu amigo canadense, a quem admirava muito, buscava a carpintaria exata, a concisão, formas mais tradicionais da canção, inspirado não apenas pelo blues, country e folk, mas também pelas baladas europeias de contadores de histórias como Jacques Brel e Edith Piaf, sem mencionar o decisivo flamenco, que aprendeu brevemente de um espanhol suicida, e moldou seu dedilhar pouco ortodoxo. Mais próximo do rock, Dylan sempre fez mais sucesso, principalmente nos EUA, onde Cohen nunca foi muito bem compreendido (o que diz muito sobre os americanos). Houve até um produtor que, ao ouvir Various Positions, o disco de 1984, em que se encontra não apenas Hallelujah como Dance me to the End of Love, disse: “Olha, Leonard, eu sei que você é genial, só não sei se é bom o suficiente”, e não lançou o disco na terra de Trump, deixando para os europeus, que sempre foram muito mais fiéis a Cohen, o prazer de comprá-lo e ouvi-lo em suas casas. Um tempo depois, ao receber um dos muitos prêmios em sua vida (que inclui também um literário, o Príncipe de Astúrias), Cohen falou em seu discurso: “Fico sempre muito comovido com a modéstia do interesse da gravadora pelos meus discos”.
Certa vez, quando se encontraram num café em Paris, nos anos 1980, tiveram uma conversa reveladora do jeito como cada um encarava o ofício. Dylan adorava Hallelujah, a qual considerava “linda como uma oração”, e perguntou a Cohen quanto tempo ele tinha demorado para compô-la. Envergonhado de admitir que tinha sido mais de cinco anos, baixou para dois. E perguntou por sua vez, em quanto tempo Dylan tinha feito I and I. “Quinze minutos”, foi a resposta já tradicionalmente imodesta do gênio de Duluth. Numa outra conversa entre os dois, recontada deliciosamente por David Remnick na última entrevista que Cohen deu pouco antes de morrer, para a New Yorker, Dylan teria dito, enquanto dirigia o carro para mostrar uma fazenda que comprara: “Para mim, você é o número 1. Eu sou o número zero”. Com sua gentileza lendária e cavalheirismo, Cohen concordou prontamente.
Na mesma matéria, Dylan mostra grande conhecimento da obra do falso rival, e faz uma avaliação generosa: “Quando as pessoas falam de Leonard esquecem de mencionar suas melodias, que, para mim, são tão geniais quanto suas letras. Mesmo as linhas de contraponto dão um aspecto celestial para as canções. Acho que ninguém chega perto disso na música moderna”. E faz uma análise detalhada de Sisters of Mercy, do primeiro álbum, além de elogiar músicas bem mais recentes, como Going Home e Show me the Place. “Suas canções são profundas e verdadeiras, sempre multidimensionais, que fazem você sentir mas também pensar”, diz. Compara Cohen a Irving Berlin: “Ambos ouvem melodias que a maioria de nós mal consegue ouvir. Ele é um músico extremamente sofisticado”. Remnick também conversou com Suzanne Vega, que se saiu com uma boa definição a respeito do segredo nas músicas de Leonard, não muito distante do que disse o cantor roufenho de Like a Rolling Stone: “São uma combinação de detalhes bem realistas e um senso de mistério”. O próprio Cohen, que sempre declarou a dificuldade de escrever as letras, dizendo que chegava a levar anos, e que já se pegou batendo a cabeça no chão para fechar um verso, mencionou a importância dos detalhes nos seus escritos. (Há mil outros “segredos”, claro, como a combinação de vozes femininas e angelicais no coro, e sua voz cavernosa, resultado de milhões de cigarros fumados. Ou o uso surpreendente de um sintetizador barato, em contraste com a sutileza e lirismo das letras.)

Paraísos artificiais e reais
Esse mistério vem muito de sua “conexão com as esferas”, uma espiritualidade que, mesclada à curiosidade sensual, desembocou num híbrido perfeito de romantismo e ironia, humor e desespero, a carnalidade mais terrena e a busca religiosa. Muito desse mistério se forjou na ilha de Hydra, para onde foi no final dos anos 1960, fugindo da chuva depressiva de Londres, carregando basicamente sua Olivetti e o famoso casaco de chuva azul. O sol dispensou o casaco, mas a Olivetti permaneceu firme na mesinha de madeira colocada na varanda da casa caiada de branco que comprou com a herança de uma tia-avó. Sua vida era frugal como a de um monge hedonista. Tinha ainda duas cadeiras, “como as pintadas por Van Gogh”, uma cama, alguns livros, velas, garrafas de vinho, um violão e uma vitrola, em que discos de Bessie Smith, Robert Johnson e Nina Simone giravam até derreter. Ele também derretia sob o efeito de ácidos, haxixe ou anfetamina, e literalmente conversava com as margaridas enquanto tentava escrever, debruçado sobre a máquina. “Era uma viagem atrás da outra tentando enxergar Deus. Geralmente tudo acabava numa ressaca horrível.” A modelo norueguesa Marianne Ihlen, sua primeira e mais conhecida musa, é quem cuidava da casa. Com algo de mítico e primitivo, como notou Remnick, a ilha, em que os carros eram proibidos e a eletricidade uma dúvida constante, lembrada por Henry Miller em sua “beleza nua e selvagem”, reunia boêmios e artistas, “amantes em todos os graus de paixão e angústia, e platônicos frustrados”, bem ao gosto do jovem bardo, que se sentia verdadeiramente à vontade no berço de nossa confusão mitológica
Impossível não pensar nos fulgores ensolarados de Hydra quando se depara com o disco que ele gravou bem próximo da morte, na sala de sua casa, com produção do filho Adam (ele deixou também a filha Lorca, ambos frutos do casamento com Suzanne Elrod. Há ainda uma neta, filha do cantor Rufus Wainwright). O contraste é muito forte. Intitulado You Want it Darker, algo como “você quer mais escuro”, é uma prestação de contas com a vida e uma aceitação serena do fim – certamente conquistada na severa disciplina do mosteiro em Monte Baldy, Los Angeles, sob a batuta de Roshi, o minúsculo mestre zen que foi seu amigo e guia espiritual por 40 anos -, não sem alguma dose de humor e até sarcasmo. Deus, ou Jesus, aparece tanto como um jogador quanto como um traficante ou um curandeiro. A esperança, que já existiu, mesmo numa canção tão ácida como The Future (“Há uma rachadura em tudo/É assim que entra a luz”), é nula: “Um milhão de velas queimam pelo amor que nunca vem”. O coro brada “Hineni”, palavra em hebreu usada por Abraão quando aceitou o sacrifício de seu filho (tão bem descrito pelo próprio Cohen na canção The Story of Isaac), para na sequência, de modo determinado, ele afirmar: “Estou pronto, Senhor”. Só quem tem coração de gelo não se arrepia. Faz lembrar também uma música anterior, do excelente Old Ideas, de 2012, The Darkness, em que diz: “‘Peguei’ a escuridão/Bebendo da sua taça/Não tenho futuro/Me restam poucos dias/O presente já não é prazeroso/Tenho coisas demais para fazer”.
A morte já vinha mostrando seu capuz e sua foice. Pressentindo-a, o cantor e compositor falou para Remnick que não tem medo dela: “só espero que não seja muito desconfortável”. No final de julho deste ano, Cohen recebeu um e-mail em que um amigo próximo de Marianne contava que ela estava muito mal (ela viria a morrer pouco depois). Sua comovente resposta viralizou na internet: “Bem, Marianne, chegou o momento em que estamos tão velhos que nossos corpos já estão se desfazendo. Acho que em breve seguirei seu caminho. Saiba que estou tão perto de você que se estender a mão talvez consiga tocar a minha. E eu sempre te amei pela sua beleza e sabedoria, mas não preciso repetir isso, pois é algo que você sabe muito bem. Só quero te desejar uma muito boa viagem. Adeus, minha querida amiga. Com amor infinito, te vejo na estrada”.
Desse jeito, a tão temida estrada parece realmente bonita.
MAIS
Assista a três vídeos sobre Leonard Cohen selecionados por Daniel de Mesquita Benevides:
Leonard recita algumas poesias no documentário Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen
Cohen canta Suzanne e explica o motivo de ter perdido os direitos sobre a música
Uma performance da música Hallelujah na turnê de 2013




