Com obras de três artistas autodeclarados trans e travesti (a carioca Tadáskía, a capixaba Castiel Vitorino Brasileiro e a baiana Ventura Fortuna), três artistas não bináries (o indiano Tejal Shah, o duo berlinense Pauline Boudry e Renate Lorenz e o indonésio-pernambucano Daniel Lie), o inventário vivo de um coletivo trans da Argentina (El Archivo de la Memoria Trans) e uma investigação sobre o registro de atuação da mais remota travesti não-indígena brasileira (Xica Manicongo, no século XVI), a 35ª Bienal de São Paulo tem quase 10% de sua escalação de artistas constituída pelas chamadas sexodissidências.
A mostra se propõe a apresentar dezenas de obras, peças, representações e instalações que buscam a presença histórica, o debate conceitual e o protagonismo queer na contemporaneidade, assentando sua nova edição, que começa em 6 de setembo, no trinômio corpo feminino, gênero e negritude de forma radical, além de intensificar o diálogo com a produção dos povos originários. Com o título Coreografias do impossível, a 35ª Bienal terá ao todo obras de 119 artistas, selecionados pelo coletivo curatorial formado por Diane Lima, Grada Kilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja-Villel.

Davi de Jesus do Nascimento, Davi Nascimento, Vedroso, Antoine Golay e Carlos Queirozi
Três representações do pioneirismo da mulher negra têm seu fulcro na evocação histórica, com Xica Manicongo (morta em 1591), Aurora Cursino dos Santos (1896-1959) e Stella do Patrocínio (1941-1992). Mulheres negras do passado, que experimentaram a violência da exclusão e do preconceito em sua forma mais cruel.
Xica Manicongo foi uma pessoa escravizada que viveu em Salvador, na Bahia, e trabalhou como sapateira na Cidade Baixa, conforme registros de documentos oficiais portugueses. Acusada de pertencer a uma “quadrilha de feiticeiros sodomitas”, Xica foi condenada pelo Santo Ofício a ser queimada viva em praça pública e ter seus descendentes desonrados até a terceira geração. Como Galileu, viu-se obrigada a negar a condição trans e vestir-se e comportar-se como um homem da época para sobreviver.
A pintora Aurora Cursino dos Santos (1896-1959) trabalhou como prostituta e viveu 15 anos internada no Complexo Psiquiátrico do Juquery, em São Paulo. Nesse manicômio, Aurora foi submetida a eletrochoques e, pouco antes de morrer, em 1955, foi lobotomizada. Seu refúgio no inferno psiquiátrico era a arte. Ela pintou cerca de 200 quadros, hoje reconhecidos como um tesouro da pintura e já exibidos em mostras no Museu de Arte de São Paulo (Masp), na própria Bienal de São Paulo e na Bienal de Berlim, Alemanha.
Stella do Patrocínio (1941-1992) foi uma poeta carioca que trabalhou como empregada doméstica e, ao morrer, foi enterrada como indigente. Sua saga é assombrosa: aos 21 anos, quando vivia em Botafogo, Rio de Janeiro, foi abordada por uma viatura policial ao tentar embarcar em um ônibus rumo à Central do Brasil. A polícia a levou a um pronto socorro, de onde ela foi enviada para o Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro. Diagnosticada com esquizofrenia, ficou internada involuntariamente pelo resto da vida.

A partir desse “edifício” histórico, vem assentar-se a representação que introduz a emergência e a assertividade das novíssimas artistas trans, como Castiel Vitorino Brasileiro, também escritora e psicóloga, de apenas 27 anos, que nasceu em um quilombo, o Morro da Fonte Grande, formou-se na Universidade Federal do Espírito Santo e fez mestrado no programa de Psicologia Clínica da PUC paulista. Estuda espiritualidades de matriz africana e busca enfatizar, em seu trabalho, a cultura ancestral em uma perspectiva decolonial.
Nessa direção atuam ainda Tadáskía, artista carioca de 30 anos, que lida com linguagens de desenho, fotografia, instalação e têxtil, e Ventura Fortuna, também de 30 anos, artista visual, performer, cantora, escritora e compositora trans de Catu, interior da Bahia (é também pastora missionária e cantora evangelista), que traz o debate vivo sobre a influência das igrejas neopentecostais na vida cotidiana.
No campo da dança, a pesquisadora e coreógrafa Inaicyra Falcão dos Santos, de 68 anos, promove um resgate das danças das culturas yorubá. “Nosso passado, entremeado por tantas diásporas, reivindica outras formas de se narrar nossas histórias”, diz Inaicyra. “Articular mundos é um gesto ético, estético e radical”.
Filha de Mestre Didi (1917-2013), lendário escritor, artista e sacerdote, e neta de Mãe Senhora, Ialorixá do candomblé́, Inaicyra é cantora lírica, doutora e pesquisadora das tradições afro-brasileiras na educação e nas artes performáticas, atuando na Unicamp.
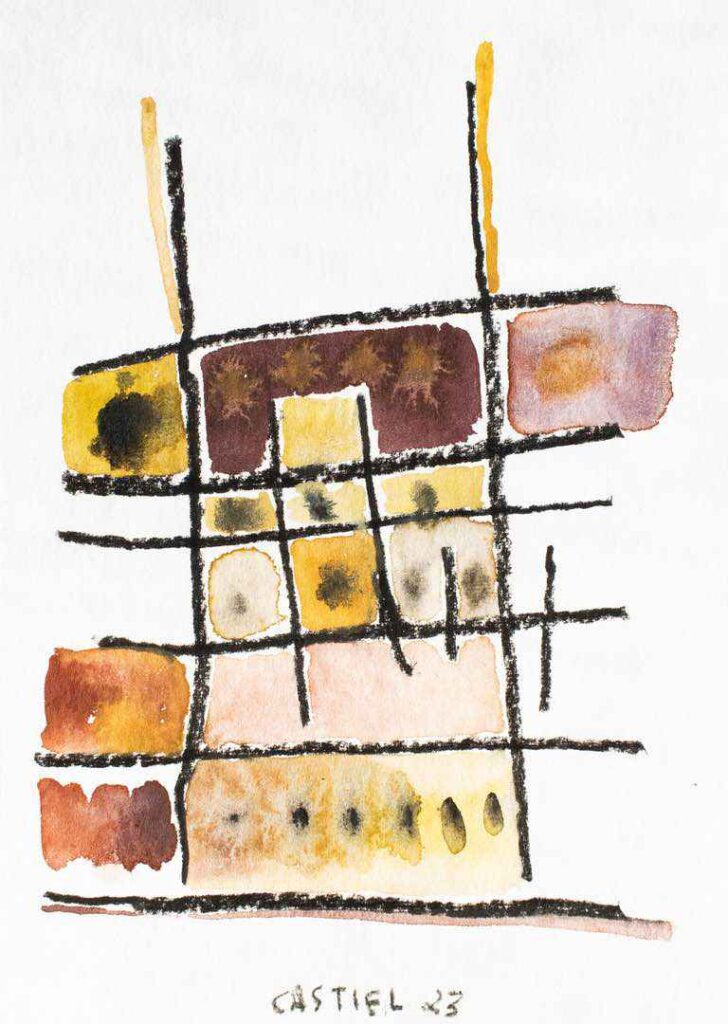
título, série If memory was a place
[Se a memória fosse um lugar]. Desenhos de carvão e aquarela
Entre outras personagens ainda mais remotas nessa reconstituição da opressão histórica está La Malinche (1406-1529), a escrava indígena da etnia nahua que serviu a Cortés, o conquistador espanhol sanguinário, como tradutora e amante. Considerada traidora pelo seu povo, Malinche e o duplo papel que exerceu a tornam uma das personagens mais controversas da cultura mexicana até hoje.
O duo Cabello e Carceller, formado pela parisiense Helena Cabello, de 60 anos, e Ana Carceller, de 61 anos, trabalha na intersecção entre fotografia, filme, vídeo, instalações e performance, explorando questões de gênero e sexualidade, poder e política. A artista balinesa Citra Sasmita, de 33 anos, atua no desvelamento dos preconceitos e das hierarquias sociais que cercam a mulher e os mitos femininos na cultura do Bali. A coreógrafa marroquina Bouchra Ouizgen, de 43 anos, cuja companhia é formada somente por mulheres, dançarinas e cantoras da tradição aïta (dos cabarés marroquinos), revê o feminino em um contexto entre o experimental e o tradicional.
O salvadorenho radicado em Nova York Guadalupe Maravilla, de 47 anos, traz à Bienal instalações que buscam relacionar arte e cura. Recuperando-se de um tipo raro de câncer, Guadalupe apresenta as esculturas de uma profunda pesquisa na sua cultura maia ancestral, objetos que perfazem narrativas indígenas complexas e de fundo espiritual. Maravilla chegou aos Estados Unidos atravessando a fronteira mexicana com “coiotes”, fugindo de uma guerra civil. Sem documentos, inverteu o axioma do destino imigrante: tornou-se mestre em artes pelo Hunter College, professor Virginia Commonwealth University e é presença frequente em exposições no MoMA e no Museu do Brooklyn, dois dos mais importantes de Nova York. Abandonou o antigo nome civil, Irvin Morázan, e adotou o pseudônimo do pai.
Entre os nomes que sustentam a conceituação histórica, estão diversas figuras fundamentais. É o caso de uma das mais proeminentes líderes da luta pelos direitos civis de Chicago, nos Estados Unidos (terra de onde emergiu Barack Obama): a poeta, escritora, educadora e doutora Margaret Taylor Goss Burroughs (1917-2011) criou instituições afro-americanas cruciais para a luta afirmativa, além de escrever livros de poemas referenciais, como o celebrado What shall I tell my children who are black? (O que devo dizer aos meus filhos que são negros?)

respirar embaixo d’água. Me tirem
daqui. Fotografia, 2021
Filha de mexicanos, a feminista, lésbica, ativista e escritora norte-americana Gloria Anzaldúa (1942-2004) nasceu em Raymondville, no Texas, e foi uma intelectual que buscou elaborar em sua obra a condição de mulher de fronteira, de enfrentamento da condição subalterna imposta aos imigrantes. Sua obra retratou a difícil missão de se estabelecer do outro lado da fronteira, criando um espaço cultural e político em que os indivíduos subalternos tivessem lugar e representação. “Cresci entre duas culturas, a mexicana (com uma grande influência indígena) e a americana (como um membro de um povo colonizado em nosso próprio território). Ódio, raiva e exploração são as características proeminentes desta paisagem”.
A globalidade do ódio é exumada em todas sua multiculturalidade, como na saga da escritora cigana Ceija Stojka (1933-2013), da Áustria, que viveu em um campo de concentração nazista destinado a ciganos, em Birkenau. O coletivo espanhol Flo6x8, de Sevilha, Espanha, parte de uma estratégia de flash mobs e da linguagem do flamenco para declarar sua insurgência em relação ao sistema financeiro global.
Nesse sentido, o flamenco ultra heterodoxo do assombroso cantor Niño de Elche (nome artístico de Francisco Molina, de 38 anos, nascido em Elche, na Costa Branca da Espanha) vem para balançar tudo que se conheça do gênero tradicional. Niño de Elche foi definido, pelo jornal El Mundo, como “o homem que bombardeou o flamenco”. Em um dos seus trabalhos mais recentes, Niño gravou os chamados “cantes de ida y vuelta”, subgênero do flamenco resultante do regresso à Espanha da emigração partida à América Latina (e que trouxe, na bagagem, as mudanças introduzidas pelos gêneros locais, como rumba, guajira ou colombiana). “Quis pegar nesse estilo que existe no flamenco e desmistificá-lo, ampliá-lo e ligá-lo a temáticas que me interessa tratar, como a escravatura, o colonialismo, a violência, as drogas, as relações comerciais e os fluxos fronteiriços”.
A amplitude de intercâmbios culturais da mostra é imensa. Vai até Roraima, de onde comparece a artista a indígena Macuxi Carmézia Emiliano, com representações do cotidiano e da cosmogonia de seu povo, e encontra em Paris o premiado cineasta israelense Amos Gitaï, que também é estrela da Bienal de Arquitetura de Veneza deste ano, mostra a obra Casa, Ruínas, Memórias, Futuro, na qual acompanha a história de uma casa no Oeste de Jerusalém durante 25 anos.
À parte o abstrato título, Coreografias do impossível, o exame do programa da Bienal, que será aberta em 6 de setembro no Ibirapuera com 120 convidados, revela uma rede de interrelações políticas no sentido mais amplo da palavra política e dos seus enfrentamentos contemporâneos.











