
*Da coleção de excelentes entrevistas e reportagens do Marcelo Pinheiro
No saguão do Santos Dumont, o generoso trago da primeira xícara de café do dia é interrompido pela abordagem de um velhinho. Mãos enrugadas em riste, repletas de bilhetes da Loteria Federal, ele anuncia os bichos quentes do dia: “Olha o macaco! Vai zebra, aí, vai?” Irritado com a indiferença de seus potenciais clientes o homem parte, sorrateiro, bradando que deveria estar no metro quadrado com maior concentração de sovinas e avarentos do Rio de Janeiro.
Horas antes, abandonamos São Paulo mais uma vez engarrafada – uma briga entre corintianos e vascaínos, em plena Marginal Pinheiros – e chegamos ao Rio para também enfrentar a incerteza do trânsito que, volta e meia, para por motivos pífios ou graves como um fogo cruzado. Diante de tais contingências dos grandes centros urbanos e do acaso que, para o bem e para o mal, estará sempre a invadir nosso cotidiano, não nos deixamos abalar; afinal de contas, estamos indo ao encontro do homem que provocava e instigava um Brasil domesticado por fuzis, que embalava com exuberante musicalidade mensagens que recomendavam coragem pra suportar, pois a ordem do dia cobrava estar atento e forte, não temer a morte e ainda se permitir sonhar que tudo poderia ser divino e maravilhoso.
Em 1969, Gilberto Gil incomodava muito e dividia a opinião pública. Teve de sair, às pressas, do Brasil, deixando aquele abraço à família, amigos, carreira e País, para desembarcar em uma swinging’ London que já começava a sentir os sintomas da ressaca de seus dias festivos e hedonistas. Gil cruzou o oceano para mergulhar de cabeça no desbunde final dos anos 1960 e contemplar possíveis saídas para aquele gigantesco ponto de interrogação deixado pelo sonho que chegava ao fim, segundo decreto de John Lennon, que ele mesmo reiterou e cantou em Expresso 2222, álbum impregnado de um sabor agreste e saudoso, que teve suas gravações iniciadas nos dias finais do exílio em Londres e foi concluído na sua volta ao País, em 1972.
Partindo de experiências como essa – como bem definiu Caetano -, Gil entrou em quase todas as estruturas e conseguiu sair de todas elas. A partir dos anos 1980, trocou as ambições da utopia coletiva fracassada de sua geração por sólidas ferramentas de poder, atuando como secretário municipal e vereador em Salvador e, mais tarde, como ministro da Cultura, ocupações que lhe renderam divergências e confrontos com severos críticos e oponentes. Gil faz balanço positivo de todas estas aventuras e diz não temer os riscos de tais exposições. Admite não ter pudor de assumir compromissos sérios motivado por impulsos espontâneos e defende o conceito de alto risco de que sua obra e vida são indissociáveis.
Com pontualidade notável, ele nos recebeu em sua produtora para uma conversa, de iniciais duas horas, que acabaram se estendendo por mais seis, quando invadimos a intimidade da pequena e descontraída família que ali se reúne para encarar horas de trabalho árduo, meticuloso e democrático, sob o comando de um sereno “professor” – como, carinhosamente, o baixista Arthur Maia se refere a ele – e os olhos curiosos da gigante Andrucha, uma simpática São Bernardo, de cauda amputada, criada ali, desde a infância. Com a palavra, Gilberto Gil.

Brasileiros – Em 1965, aos 23 anos, você chegou recém-casado a São Paulo com a intenção de se estabelecer como executivo. Ao mesmo tempo aliou-se a Augusto Boal, no espetáculo Arena Canta Bahia, embrenhando-se cada vez mais na carreira artística. Havia em suas escolhas um comprometimento com uma vontade maior da família ou você se enxergava mesmo exercendo o papel de um cidadão comum? Você se sentia dividido nessa fase da juventude?
Gilberto Gil – Eu tinha sido muito naturalmente preparado pra me encaixar em um modelo de êxito pessoal, que estava ligado a um êxito familiar, também. Um projeto de família de classe média baiana, negra, mestiça, que era alguma coisa bem estabelecida como modelo e como eleição pela sociedade toda. Um jeito consagrado. Tinha sido preparado pra isso, sem muito questionamento. Tudo aquilo era complementação de um conjunto amplo de elementos da educação, da formação. Fui seguindo os passos e, evidentemente, a vida, a minha vida, entrou na questão. Passei a trabalhar com música. Passei a encontrar pessoas. Encontrei Caetano, Bethânia, Gal; gente de teatro, na Bahia, gente de interesses diversos – por cinema, artes e variedades, pela questão existencial. Tudo isso passou a constituir uma outra vida, minha, própria, que, como você pergunta, tudo isto estava em conflito? Estabelecia um conflito? Eu não percebia como tal. Percebia como partes da minha vida e, de alguma forma, tinha de atender a todas elas. Naturalmente, uma escolha iria sobrepor-se a outra, muito fortemente, depois de minha chegada a São Paulo.
Nos dias que precedem sua prisão, um dos mais ferozes críticos do tropicalismo foi o próprio dramaturgo Augusto Boal, que classificou o movimento de neorromântico, homeopático, inarticulado, tímido, gentil, importado e desprovido de lucidez, chegando à ironia de intitulá-los Conjunto de Havaianos e de classificar um depoimento de Caetano Veloso de cafajeste e reacionário. Você é tido por muitos como um sujeito conciliador. De que maneira interpretou essa postura de Boal? Concorda que seja, de fato, um conciliador?
Boal era um teatrólogo e dramaturgo muito engajado. Dedicava partes importantes de sua ação, seu trabalho intelectual e sua capacidade de reflexão a essa coisa do movimento revolucionário. Tinha todo o direito de discordar de qualquer coisa, com quem quer que fosse. Aliás, ele compartilhava este sentimento com muita gente, em relação ao tropicalismo, de que nós éramos alienados, entreguistas, deslumbrados. Tudo isso é maneira de ver e de interpretar. Não concordo com ele com relação à cafajestice de Caetano. Não sei se ele entendia as atitudes e os gestos de Caetano como movidos por cafajestice.
Ele defende esse ponto de vista numa réplica a um comentário de Caetano, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de que “…tudo é tropicalista: o corpo de Che Guevara e uma barata voando para trás de uma geladeira suja”. No calor da situação, deve ter, de fato, soado ofensivo pra muita gente.
Não acho que nenhum de nós tenha atribuído a Guevara ou a quem quer que seja que tivesse tido envolvimento com a luta revolucionária essa semelhança literal com uma barata. Pelo contrário, a música “Soy loco por ti America”, por exemplo, é uma canção de louvor a Che e de reconhecimento da grandeza e da importância de uma vida como aquela, de uma atitude como aquela. No mais, as opiniões de Boal eram as opiniões dele e correspondiam à visão que ele tinha do que deveria ser “estar no mundo” e, certamente, discordando daquilo que não estaria de acordo com este “estar no mundo”, segundo Boal. Mas algumas coisas são exageradas e fora de propósito como considerar cafajestice o conjunto mais exuberante do gestual de Caetano.
Em seus trabalhos mais inventivos você esteve, muitas vezes, ao lado do maestro Rogério Duprat. Muitos chegam a tributar aos arranjos dele uma importância superior à força das canções. Como você mensura a participação de Duprat no movimento tropicalista?
A presença de Duprat naqueles trabalhos foi fundamental para conceituação, propriamente, da coisa musical. O que é que a gente queria com aquelas composições, como elas poderiam ser “embrulhadas”, “empacotadas”, para que tivessem o apelo que queríamos, que precisavam ter. Foi fundamental no contato com os músicos, os Beat Boys, os Mutantes. Foi ele que nos apresentou a esse pessoal todo e me aconselhou a fazer “Domingo no Parque” com os Mutantes e não com o Quarteto Novo, como eu queria. Ele achava que com os Mutantes a gente ousaria mais, integraria os elementos contemporâneos que a própria composição almejava. Foi fundamental, pois não era simplesmente maestro no sentido da decupagem, da tradição para o campo musical, era também um filósofo da questão jovem, tinha tido, no campo da música erudita, intervenções importantes, arrojadas e tão ousadas como o tropicalismo, ele já era tropicalista neste sentido. Ajudou muito, não só a estabelecer o padrão musical do tropicalismo, como também a própria questão conceitual, filosófica e política. Em tudo isso ele teve uma contribuição muito forte. Não sou daqueles que pensa que sem o Rogério resultaria na mesma coisa. Ele foi fundamental. Foi tão importante quanto eu, Caetano, Torquato, Capinam. Esta é uma das características importantes do tropicalismo: foi uma ação coletiva. O todo dependeu das partes e cada parte teve uma função muito importante. Duprat, sem dúvida alguma, é um grande exemplo disso.

Nas ruas de Manhattan,
em 1971. Gil estreia
em Nova York no
mesmo palco em que
Bob Dylan fez sua
primeira apresentação
Sua partida para o exílio coincide com o dia da morte de Brian Jones, fundador dos Rolling Stones. Meses depois, um negro seria covardemente assassinado diante do palco em que tocavam os mesmos Stones e John Lennon decretaria que o sonho havia acabado. Como foi a chegada em Londres nesses idos de 1969 e o confronto com essa nova realidade? Havia mesmo vestígios de que um ciclo se fechava?
Minha chegada a Londres coincide com este momento de ápice do movimento hippie, da cultura psicodélica, de todas aquelas grandes mutações sociais, comportamentais. Cheguei, exatamente, no momento de dissolução dos Beatles e da morte de Brian. Logo em seguida, o discurso de Lennon: o sonho acabou! Havia mesmo uma espécie de fastio, de cansaço, que era uma coisa natural. Tudo aquilo nascia de impulsos muito impetuosos da condição juvenil e, à medida que as pessoas iam amadurecendo, quatro, cinco, seis anos depois, começava a surgir um fastio natural em relação a aquilo tudo. O cansaço e a vitimização, muitas vezes. Pessoas que iam tombando no meio do caminho. A própria percepção da dimensão utópica daquilo tudo. A resposta da realidade não era propriamente na medida do investimento que se fazia com a intenção de mudá-la; mudava-se muita coisa, mas não era aquela resposta forte. A verdade era refratária, difícil. Mesmo aqui, todos nós experimentávamos muito disso. O tropicalismo também havia sido golpeado, fortemente, aqui, com a interdição final, a prisão, a expulsão do País. Tudo isso fornecia elementos suficientes pra gente sentir estas dificuldades e traduzí-las como o final de um sonho. Acho que a expressão tem muito a ver com isso: uma fadiga daquele movimento todo, daquela hiperatividade que a juventude teve naquele momento. Eu compartilhava bastante desta percepção.
Em seu livro Verdes Vales do Fim do Mundo (Editora L&PM Pocket), Antônio Bivar narra a fantástica aparição de você e de um grupo de mais de 20 pessoas no palco do Festival da Ilha de Wight, espécie de sucessor britânico do Woodstock. Ele conta que, depois da apresentação, os executivos da CBS queriam contratar todo o grupo. Como foi essa experiência?
A comunidade brasileira era numerosa, muito expressiva, em Londres. Muito unida, quase todos nós saindo do Brasil em busca de novas experiências. Muitos, como eu e Caetano, relativamente vitimizados pela questão da ditadura. Fomos todos pra Ilha de Wight. Acampamos, ocupamos uma ribanceira inteira, em cima de uma daquelas colinas, ficamos lá com nossas barracas, três quatro dias antes das apresentações começarem.Muita música, ácido lisérgico, mescalina, toda aquela coisa. Cláudio Prado, cineasta e produtor cultural, andava pelo acampamento e conversava com todo mundo. Ficou sabendo que da manhã pra tarde do dia da abertura estavam convocando músicos e artistas amadores pra fazer uma programação paralela com as coisas que surgissem por ali. Cláudio falou: “Vamos lá, o pessoal tá chamando a gente pra se apresentar!” Caetano estava lá, Gustavo e Pedrinho, da Bolha, os meninos músicos que estavam por lá e outros artistas brasileiros. Martine, uma artista plástica belga, amiga do grupo, tinha feito uma enorme centopeia de plástico vermelho. Juntamos tudo isso, os violões que estavam por ali, fomos umas 20 pessoas para o palco, vários deles nus, vestindo a centopeia. Houve uma performance em que, de repente, as pessoas saíam todas nuas de dentro da centopeia, improvisamos e cantamos algumas músicas. Era por volta de uma da tarde e o público todo vibrou muito com aquilo tudo. Era muito ao estilo das coisas que toda aquela multidão gostava e queria. Lembro que, na reportagem geral sobre o festival, a revista Rolling Stone deu um destaque muito grande à nossa apresentação, mas não me lembro de nenhum executivo de gravadora querendo assinar conosco, não.
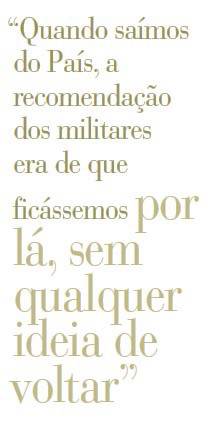
Interessante que toda essa repercussão positiva tenha se dado em um festival em que grandes nomes como Jimi Hendrix e The Who fizeram apresentações medianas, não é? A propósito, dias depois, acontece a morte de Jimi Hendrix, como recebeu a notícia?
Uma das coisas mágicas desta estada na Ilha de Wight foi justamente ter conhecido Hendrix. Eu lembro que estávamos assistindo ao show de Miles Davis, grupo do qual participava o Airto Moreira, percussionista brasileiro, e estávamos muito perto do palco. Eu, Caetano, Dedé, Sandra, Cláudio Prado, toda essa turma. O Airto acabou nos vendo e sinalizou pra que fôssemos ao camarim, no backstage, depois do show. Fomos, e lá encontramos, entre outras pessoas, Jimi Hendrix, que o Airto, muito gentilmente, se prontificou a nos apresentar. Conversamos uns dez minutos ali, ele já pronto, vestido com a roupa pra fazer o show. Uma semana depois ele foi à Alemanha, fez ainda uma apresentação, voltou pra Londres e ficou hospedado em um hotel na Kensington Park Road, a uns cem metros da minha casa, que era em um bequinho desta mesma avenida, e nós tivemos a notícia. Uma amiga nossa, americana, que tinha vivido no Brasil na época do tropicalismo e estava vivendo em Londres, tinha estado com Hendrix em um jantar três ou quatro dias antes da morte dele e, no dia seguinte, esteve conosco, relatando seu estado de extrema paranoia. Ele estava falando em perseguição; da máfia, que queria obrigá-lo a cumprir agendas do interesse dela, que queriam, eventualmente, tomar o estúdio Electric Ladyland e coisas desse tipo. Ela ficou muito assustada e passou este susto pra nós. Quando soubemos da morte dele estávamos ainda vivendo o impacto desta informação.
Meses antes de voltar para o Brasil, você se apresentou em Nova York, no Folk City, com uma ambientação de Hélio Oiticica. O local é célebre por ter sido palco do primeiro show de Bob Dylan. Qual foi sua impressão do público americano? Por esses dias, outubro de 1971, você estava se apresentando pela primeira vez nos Estados Unidos, fazendo shows em Paris, e já planejava voltar ao Brasil? O momento era oportuno?
Não me lembro se já tínhamos uma perspectiva de volta. Quando saímos do País, a recomendação dos militares era de que ficássemos por lá e deixássemos de lado qualquer ideia de voltar. Não me recordo se, em 1971, as negociações que alguns dos nossos parentes e pessoas próximas começaram a fazer com os militares, para que a gente pudesse voltar, já tinham começado. Tenho impressão que se deram no início de 1972, quando Caetano volta, um pouco antes de mim. De todo modo, a ida para Nova York estava muito mais dentro da perspectiva de exploração do campo geral das novas possibilidades de fora. A recepção foi muito boa. O público era basicamente americano; o convite e a promoção partiram de americanos. Evidentemente, me lembro que um deles era ligado ao Brasil, tinha envolvimento com o Arena, o Boal, e me convidou. Hélio morava em Nova York nessa época e já veio praticamente dentro do pacote. Quando me convidaram, anunciaram que a ambientação toda ia ser feita por ele, que usou pedras, água. Era uma alusão direta à Tropicália, à própria obra dele. Reconstituía um pouco aqueles elementos – tinha uma televisão também. Foi uma semana muito interessante na off Broadway, um dos eventos que consolidaram em mim o sentimento de que era possível fazer uma carreira internacional, coisa que veio a se efetivar mesmo, anos depois, em 1978, depois do Festival de Jazz de Montreux.
Às vésperas de sua partida para o exílio, você passou a se aproximar do músico suíço Walter Smetak que, durante o período em que lecionou na Universidade Federal da Bahia, tornou-se uma espécie de guru de Tom Zé e Caetano Veloso. Quando voltou, esta amizade extrapolou a questão musical e enveredou por interesses místicos. Como se deu o envolvimento de vocês?
Quanto a Smetak, quando voltei de Londres, o encontrei, ativamente, convocando músicos, jovens artistas, pra se juntarem ao trabalho dele, pra se juntarem à divulgação e à expansão do campo de pesquisa que ele vinha fazendo e me encantei com aquilo tudo. Era também uma das características do trabalho dele esse desejo de deslocamento da realidade musical, cultural e política a outro patamar e fomos eu, o cineasta André Luíz de Oliveira e o artista gráfico Rogério Duarte, trabalhar com ele, fazer a orquestra de microtons, ajudar na questão das plásticas sonoras, classificação, utilização e conservação dos instrumentos. Fizemos dois discos com ele, promovemos concertos na Bahia, em São Paulo, foi um trabalho importantíssimo. O Smetak era uma espécie de mago das sonoridades e tinha um sentimento profundo de ruptura com o classicismo, com a ditadura pitagórica. Era um experimentalista aberto, fantástico, e me identifiquei muito com ele.
Jorge Benjor e você são notórios pela força rítmica de seus violões. Foi empunhando um par deles, que lançaram, em 1975, Gil & Jorge, Ogum/Xangô, um álbum completamente anárquico, indiferente a qualquer padrão comercialmente viável da época. Diante da liberdade de improviso e da extensão das faixas, a impressão que se tem é que vocês tinham passe livre da gravadora. Como foram as sessões? De quem partiu a ideia do álbum conjunto?
Tivemos passe livre, sim. O Jorge é muito audacioso, embora possa não parecer, pelo conjunto das coisas, do comportamento dele, do modo como ele reage ao mundo, as coisas que ele diz, enfim, não parece, mas, na coisa artística, na realização musical, ele é muito arrojado, muito solto, muito livre. Ele é um bluesman, como se fosse um daqueles americanos libertários, fortes e tal. Quem conduziu o disco para aquela situação foi Jorge. Lembro muito bem de um momento em que tínhamos preparado uma canção dele pra gravar, e nós ali: “…vamos ensaiar a tonalidade“. Começamos: “…tá gravando!” Ele ordenou a introdução e entrou em uma outra música. Entrou em “Morre o burro fica o homem”, que não era aquela que a gente iria gravar e fui seguindo, fomos todos seguindo, e ficou assim mesmo. Pra você perceber o grau de liberdade, de improvisação, de descontração das sessões. É um disco muito celebrado e igualmente querido por nós. Um disco que nos marcou muito, a ponto de, vez em quando, falarmos em reeditá-lo para fazermos um reencontro. Tenho muita vontade e ele também. É possível que ainda aconteça.

Ainda no biênio 1975/1976, neste curto período, você lançou este álbum com Jorge, lançou Refazenda, estava em plena atividade com os Doces Bárbaros, quando aconteceu o episódio da prisão por porte de maconha em Florianópolis. Todos cobrando uma postura ética de sua parte. Hoje, apesar da maior tolerância à maconha e ao consumo de drogas sintéticas muito mais nocivas, o tabu com a maconha ainda permanece bastante velado. Basta lembrar que o ministro Carlos Minc teve de explicar sua adesão à marcha que defende a droga. Baseado nesta experiência pessoal, qual cenário considera pior, Gil?
Olha, eu venho, há muito tempo, junto com muita gente, advogando a liberação. Eu acho que a transformação do problema das drogas em um caso de saúde pública, um problema médico, é vantajoso em relação ao que existe hoje, que é a questão da clandestinidade, do tráfico. Não é uma questão de polícia, só. Hoje são as duas questões. A de saúde pública, com o crack, é alarmante, destruindo vidas jovens no mundo inteiro. É um problema gravíssimo, potencializado pela dimensão da criminalidade. Eu tenho a impressão que se a gente passasse a ter só o problema de saúde pública, seria uma vantagem. Ainda que, no início, talvez, a liberação provocasse ondas mais intensas de abuso, acho que, em um médio prazo, nós controlaríamos com políticas de desestímulo e com a queda do fetiche, que é um dos principais apelos. Eu continuo advogando isso muito claramente. Não tem nenhuma justificativa pra proibição que seja, para mim, mais convincente, mais interessante do que a ideia da liberação.
A partir dos anos 1980 você passa a se envolver com o exercício da política, em uma jornada que começou na Secretaria da Cultura da prefeitura de Salvador, passou pela Câmara dos Vereadores, uma frustrada pré-candidatura à prefeitura soteropolitana e culminou nos cinco anos à frente do Ministério da Cultura. Como vê criticamente esta trajetória? Acha que os longos hiatos entre o exercício das funções tiveram algum impacto em seu desempenho? É plausível esperar uma continuidade desta sua faceta de homem público?
Eu acho que os hiatos são a prova muito clara de que eu nunca tive interesse em dar uma sequência na carreira política. São fatos espasmódicos, surgem de estímulos repentinos. No caso, por exemplo, da Bahia, foi o Gorbachev, a Perestroika e a Glasnost. Toda aquela quebra daquele monstro soviético, aquilo foi muito entusiasmante pra mim, de modo a me provocar o interesse em contribuir pela coisa da vida política e pedi a Mario Kertesz, que era prefeito de Salvador, se me daria oportunidade de trabalhar com ele, na Secretaria de Cultura. Ele me deu e eu fui. Dali, como consequência, a tentativa de uma candidatura a prefeito, frustrada e, a pedido do grupo político, a candidatura a vereador, que resultou em mais quatro anos de vida política, ali em Salvador. Saí dali e só vim a ter um outro engajamento, agora, com o Ministério da Cultura, por conta do convite do presidente Lula, que eu achei irrecusável, por causa do significado do Lula, da eleição dele, tendo a história que tem, sendo quem é, o significado que tem pra trajetória e toda a saga emancipatória da sociedade brasileira. Eu achei que podia, que isso não seria, propriamente, um problema para mim. O problema seria enfrentar a gestão real de um ministério e as relações com o governo, as relações com a sociedade, os problemas políticos decorrentes disso, as lutas, as batalhas tipo Ancinav (Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual), entre outras, mas por causa do presidente Lula e o significado da Presidência dele, eu resolvi topar essas paradas todas e agora já estou livre. Estou em situação de hiato, novamente.
 Você, que testemunhou todos os percalços do presidente Lula até a chegada ao poder, que balanço faz desse ciclo que se fechará em 2010. Acha que o presidente conseguirá uma transferência de votos capaz de frustrar as expectativas tucanas?
Você, que testemunhou todos os percalços do presidente Lula até a chegada ao poder, que balanço faz desse ciclo que se fechará em 2010. Acha que o presidente conseguirá uma transferência de votos capaz de frustrar as expectativas tucanas?
A tradição da alternância é muito forte. As sociedades gostam de operar com a alternância como elemento de variação, de fertilização, de enriquecimento da vida política, de balanços e contrapesos. É possível que haja mesmo uma tendência, até inconsciente, na sociedade brasileira, no sentido de eleger alguém que não seja do Lula. Ao mesmo tempo, a força dele é muito grande. Ele vai ter uma capacidade de transferência de votos muito grande. Tudo vai depender das várias candidaturas que estão aí, enquadradas. A candidatura da ministra Dilma, posta em evidência, e as candidaturas das outras legendas, os tucanos e os outros que virão por aí. Agora, o que significa o governo do presidente Lula pro Brasil, isso eu não preciso falar. Os fatos recentes aqui, internamente, e no mundo, falam muito bem. O trânsito que ele tem, hoje, o prestígio que ele adquiriu no mundo inteiro e junto à população brasileira, não são à toa. Essa insistência que ele teve em investir, muito fortemente, na questão social, que era uma coisa que a sociedade brasileira vinha pedindo, há muito tempo. Acho que tudo isso faz do governo dele um governo muito importante, muito interessante pra história do Brasil.

Voltando à música, você vem de um período onde até a embalagem tinha vínculo conceitual com a obra. Hoje, com as novas tecnologias colocando de pernas pro ar a propriedade intelectual, o conceito de obra fechada morrendo e as pessoas consumindo música de forma aleatória – vão às suas fontes de download e baixam uma ou outra faixa -, como você vê estes tempos? É um desafio maior encontrar inspiração em um cenário tão indiferente aos esforços do artista?
Eu acho que os esforços do artista têm que ser revistos. O próprio artista está sendo obrigado a rever o que significa esforço e o que significam as possíveis direções para orientação deste esforço. São fatos: o impacto das tecnologias – e tem sido assim em vários campos – acaba impondo visões e encaminhamentos pra vida humana. São tecnologias irrecusáveis. Elas ferem modelos clássicos, portanto, os esforços de nós todos têm que ser revistos. Ao mesmo tempo, é possível admitir formas de resistência. O disco de Caetano Zii e Zie é um belo exemplo desta capacidade de resistência. Eu tinha a impressão – e é uma impressão que eu continuo tendo em relação ao geral da produção musical – de que discos, tal como eram concebidos e feitos, vão se tornando coisas cada vez mais difíceis de existir, mas Zii e Zie é um defensor desta posição. Recupera essa capacidade de você gostar de um disco inteiro, fechado; canções e significados que se sucedem, adensam, de canção para canção, e acabam fechando um conceito de uma determinada obra. Isso se confirma neste disco de Caetano, mas, ao mesmo tempo, é um disco que já se beneficia desta desconstrução da obra fechada. Ele começou com o Obra em Progresso e se beneficiou deste site em que dialogou, amplamente, com setores variados da sociedade brasileira e de outras partes do mundo, sob seu processo de criação. Eu acho que este é um bom exemplo. Esta capacidade de, ao mesmo tempo, resistir e reexistir, seria um exemplo de saída.
Em seu último show em Osasco, São Paulo, você abriu a sequência Rock do Segurança, Luar e Punk da Periferia, dizendo que se deixou influenciar pelo rock feito pela geração de bandas que despontava no início dos anos 1980. Ora, não seria muito melhor se ocorresse o contrário, se eles se inspirassem no rock que você fazia 15 anos antes, de forma muito mais eficaz e bem resolvida como produto sincrético?
Eu não sei se essa avaliação dos aspectos interessantes do que eu fiz, anteriormente, e o valor que isso tem, não sei se posso concordar com relação a esse valor todo. O que eu fiz com o rock foi sempre usar uma espécie de aragem, de fragrância que o rock espalhava por aí. Aquele perfume, aquele ar. Com aquilo eu construía minhas peças. Você pega, por exemplo, uma peça como Back in Bahia, pra ir em um momento bem rock: aquilo ali é uma embolada! O pretexto é rock, mas a essência, mesmo, do desempenho musical, na composição, no momento em que eu escrevi e cantei aqueles versos, eu cantei à moda de uma embolada. Aquilo é, portanto, híbrido. Uma coisa brasileira elencada com elementos do rock.
Mas é, exatamente, esta diferença de propósitos que distancia sua produção desse período de muito do que era feito por essa geração, que muitas vezes dedicava-se a copiar estereótipos e matrizes estrangeiras.
Esses meninos, muitos deles, em suas devidas proporções, tiveram também atitude parecida. Misturaram. O caso do Cazuza, que tinha elementos muito claros do samba-canção, da balada brasileira, do bolero, da canção da fossa; o caso dos Paralamas, onde o elemento rítmico brasileiro e o caribenho se encontram. Muitos deles também fizeram o contrário: foram, ortodoxamente, buscar uma reprodução no Brasil de um rock inglês, de um rock americano. Em ambos os casos, com graus interessantes de êxito. Até hoje, acho sensacional muito do trabalho que Lulu Santos fez. Os discos de Raul Seixas são antológicos, extraordinários. O trabalho pós-Mutantes da Rita é maravilhoso. Me vejo muito bem como seguidor deles e não o contrário.

Um momento bonito de sua apresentação em Osasco, em maio último, foi quando seu neto Bento invadiu o palco, pedindo ao pai, Bem, para participar do show, e saiu a “tocar” um bandolim, por mais de duas músicas. Como se dá o aprendizado musical no clã dos Gil? É uma escolha natural dos filhos ou você admitiria algum excesso de influência?
Todos eles tiveram este tipo de acesso: aos instrumentos, aos palcos, às festas, às longas sessões de audições de discos que eram feitas na minha casa, na casa de Caetano, na casa dos parentes, dos amigos. Todos os meus filhos, desde Nara, cresceram neste ambiente. Narinha, por exemplo – nós até fizemos uma homenagem a este fato, quando gravamos “Wait until tomorrow”, do Jimi Hendrix, no Tropicália 2 -, nós chamamos Narinha pra gravar conosco porque ela, pequenininha, com um ano e meio, na casa do Caetano, lá em São Paulo, repetia o “…think you better wait till tomorrow” do Jimi Hendrix com muito gosto. Ela tinha um ano e meio e já exposta àquilo tudo, já com aquela impregnação da música de todo tipo. Eles são criados assim e o Bento está repetindo isto. Ele vem aqui pro estúdio, pega, fica tocando os intrumentos, toca percussão junto com a gente, canta trechos das músicas. É cultural, uma coisa ambiental para eles e daí que, depois, vão escolhendo o que querem. Nara escolheu ser cantora, hoje ela é cantora. Depois o Pedro, que escolheu ser e foi baterista; a Preta e o Bem, que também escolheram ser artistas. Vários deles têm escolhido.
Impressiona muito sua performance de palco. A disposição e energia com que empunha violão, guitarra, canta e cativa o público, surpreende. Já consegue imaginar quando se dará sua aposentadoria artística? Faz planos para uma velhice mais calma ou a música vai continuar sendo uma terapia de longevidade?
Gosto, gosto ainda, muito, de tocar. Vejo aquilo tudo como uma ginástica, também. É ali que eu me exercito, que eu mantenho a forma. É ali que eu purgo certas coisas, que faço uma catarse com elementos de renovação de energias. Aposentadoria é uma coisa fora de perspectiva pra mim. A vida vai ter que me aposentar, não eu.

Na canção Outros Viram, de seu último álbum, você cita os poetas Maiakovski e Walt Whitman, o romancista Stefan Zweig e outros célebres personagens que, em algum momento, exaltaram a vocação do Brasil em ser o país do futuro. Você, que teve a vida indissociavelmente ligada à história recente do País, que futuro prevê para o Brasil?
Eu acho que o que é novidade para o Brasil, para o brasileiro e, de uma certa forma, para o mundo, também, em relação a esta questão, é que parece que não é mais o futuro, parece que é agora. Está parecendo, pela primeira vez, com uma aceleração muito grande do mundo, da vida, que esta distância desapareceu. De repente, o presente já é o futuro. O Brasil está no futuro do mundo e o futuro do mundo está no Brasil. Essas duas coisas já estão começando a coincidir, o que estabelece a percepção mais flagrante disso, tanto pra nós brasileiros quanto para o mundo. A história recente do País tem a ver com tudo isso. A grande festa barroca tropical, o carnaval, essa capacidade extraordinária de celebração, essa vivência estoica da tragédia, essa capacidade que o País vem desenvolvendo para viver sua dimensão trágica de forma altiva e, ao mesmo tempo, conformada, de maneira a estimular as reações, as contestações, a luta pela obtenção do melhor. Eu acho que tudo isso é o que é o Brasil, hoje. O que está sendo e o que será o Brasil, daqui pra frente: um País cada vez mais parecido com o mundo, num mundo cada vez mais parecido com este País.







